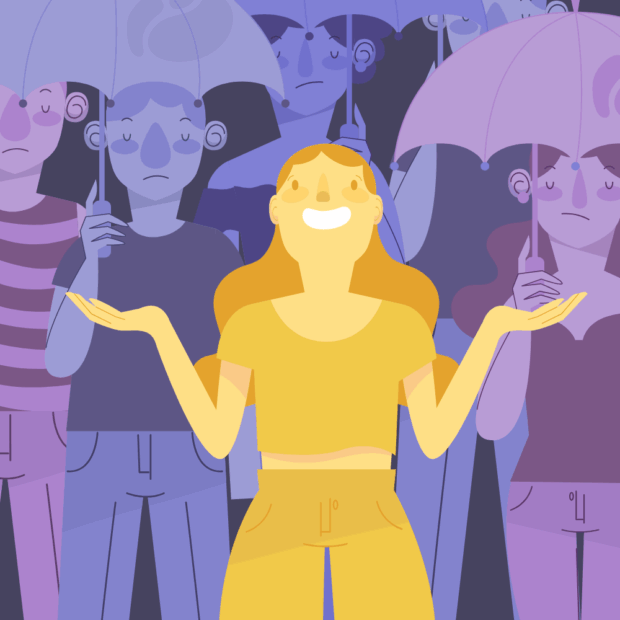Nesta semana, li um artigo instigante do consultor estrategista Louis Burlamaqui (2025), publicado em sua página no LinkedIn (https://www.linkedin.com/pulse/o-sequestro-do-humanismo-como-cultura-woke desfigurou-burlamaqui-pdlwf/). Inspirado por suas reflexões, busco aqui, pela lente da Psicologia, um paralelo às suas palavras. Afinal, como reitero sempre nesta coluna, Psicologia é ciência, não ideologia.
O debate em torno do humanismo, da cultura woke e da liberdade de expressão tornou-se central nas últimas décadas, sobretudo em sociedades ocidentais marcadas por rápidas transformações culturais. Burlamaqui discute essa tensão entre, de um lado, a busca por reconhecimento, reparação histórica e inclusão social; e, de outro, o risco de que tais movimentos se convertam em práticas de censura e intimidação, restringindo o livre exercício do pensamento.
A Psicologia, enquanto ciência do comportamento e da subjetividade, dispõe de um arsenal teórico que permite compreender tanto a relevância social desses movimentos quanto os efeitos psicológicos e coletivos da polarização que deles resulta. Este artigo, portanto, procura articular o texto de Burlamaqui a partir das contribuições da Psicologia Social, Humanista, Cognitiva, Crítica, Moral e Política.
A Teoria da Identidade Social (Tajfel & Turner, 1986) explica como os indivíduos internalizam pertencimentos grupais, criando fronteiras simbólicas entre “nós” e “eles”. No contexto da cultura woke, esse mecanismo fortalece identidades de raça, gênero e sexualidade, mas também desperta resistências em grupos que interpretam essas mudanças como ameaças a valores tradicionais. Tajfel demonstrou que até divisões arbitrárias são suficientes para gerar favoritismo intragrupal e preconceito intergrupal. Esse fenômeno ajuda a entender como a defesa da liberdade de expressão pode ser vista por uns como “luta por justiça social” e, por outros, como “imposição ideológica”.
Ignacio Martín-Baró (1998), expoente da Psicologia da Libertação, defende que a Psicologia deve assumir papel político ao denunciar mecanismos de opressão. Sob essa ótica, a cultura woke representa uma tentativa de dar visibilidade a minorias historicamente silenciadas. Contudo, Burlamaqui levanta um dilema: até que ponto esse movimento não se transforma em groupthink (Janis, 1972), restringindo a pluralidade de ideias? A Psicologia Crítica alerta justamente para esse risco de novas formas de opressão simbólica, quando a busca por inclusão cede lugar ao dogmatismo.
Carl Rogers (1997) e Abraham Maslow (1968) reforçam que o desenvolvimento humano exige autenticidade, liberdade e autorrealização. A liberdade de expressão, nesse sentido, é uma condição psicológica essencial para a saúde mental. Quando indivíduos são constrangidos a adotar discursos hegemônicos, ainda que em nome da inclusão, ocorre um bloqueio da espontaneidade e do crescimento pessoal. A Psicologia Humanista, portanto, apoia a crítica ao risco de redução do espaço de fala, mas também convida à empatia: ouvir o outro em sua experiência subjetiva é passo fundamental para a verdadeira transformação social.
Aaron Beck (2011) demonstrou como distorções cognitivas, como o pensamento dicotômico (“ou está comigo ou contra mim”), generalizações e rotulações, alimentam a polarização social. Aplicadas ao debate da cultura woke, essas distorções reduzem complexidades históricas a categorias rígidas de “culpados” e “vítimas”. Estudos recentes em Psicologia Cognitiva e Comunicação Social reforçam esse diagnóstico: ambientes digitais intensificam tais distorções, favorecendo radicalizações por meio de câmaras de eco e reforço seletivo de crenças (Sunstein, 2017).
Já a teoria do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg (1981) ajuda a compreender como indivíduos justificam moralmente suas ações. Parte da cultura woke pode ser vista como manifestação de estágios pós-convencionais, orientados por princípios universais de justiça e igualdade. O problema surge quando esses princípios são impostos de forma autoritária, sem respeitar os diferentes estágios de desenvolvimento moral, gerando resistência e backlash.
Pierre Bourdieu (1998), embora não psicólogo, contribui para a Psicologia Política ao analisar o poder simbólico. Movimentos culturais, afinal, disputam narrativas e legitimidade social. Nesse campo, a Psicologia Política ajuda a entender como discursos de inclusão ou exclusão afetam a percepção de legitimidade, a confiança nas instituições e a coesão social. Burlamaqui chama atenção para esse embate simbólico em que “justiça social” e “liberdade de expressão” se colocam como polos em conflito.
Diante desse panorama, a análise psicológica indica que o dilema entre cultura woke e liberdade de expressão não pode ser reduzido a uma escolha binária. Trata-se de um fenômeno complexo em que se entrelaçam processos identitários, necessidades de reparação histórica, distorções cognitivas coletivas e exigências de liberdade subjetiva. O artigo de Burlamaqui, ao enfatizar a preservação do humanismo e da liberdade de expressão, encontra respaldo nas abordagens Humanista e Cognitiva. O perigo, entretanto, surge quando radicais instrumentalizam a Psicologia Crítica para justificar posturas impositivas, separatistas e agressivas, travestidas de defesa das minorias, mas que acabam reproduzindo ou mesmo ampliando formas de opressão.
Nesse ponto, os defensores dos oprimidos podem tornar-se tão ou mais opressores do que aqueles a quem combatem. O papel da Psicologia, portanto, deve ser o de construir uma síntese que valorize simultaneamente a voz dos grupos vulneráveis e a liberdade individual como condições para a saúde psicológica e social.
A contribuição de Burlamaqui é provocar a reflexão sobre os limites do ativismo cultural contemporâneo. A Psicologia demonstra que tanto a luta por justiça quanto a preservação da liberdade são necessidades humanas fundamentais. A atual ausência de equilíbrio entre essas dimensões tem produzido polarização tóxica, radicalização identitária e enfraquecimento do diálogo democrático.
Assim, entendo que não cabe à Psicologia, enquanto ciência, levantar bandeiras ideológicas, mas sim fundamentar o debate com base em suas diversas teorias — Social, Humanista, Cognitiva, Moral e Crítica — mostrando que a verdadeira saída não está na supressão de um polo em detrimento do outro, e sim na construção de uma cultura de diálogo, empatia e reconhecimento mútuo.
Até a próxima.