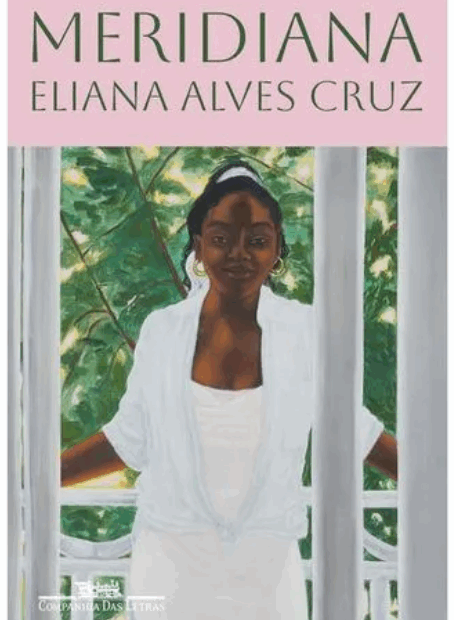SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)
Esse barulho aí é de algo queimando. Pode ser da chapinha que alisa o cabelo crespo de meninas negras.
Do cheiro de carne assada numa briga entre irmãos que termina com o pente de ferro quente arremessado contra um deles. Das tantas vezes em que a matriarca, com saúde mental fragilizada, quase põe fogo no apartamento por distração.
“Meridiana”, o novo romance de Eliana Alves Cruz, tem como pano de fundo um racismo incendiário, que deixa marcas em três gerações de uma família que ascende da pobreza na favela até filhos que “jamais vivenciariam as precariedades do passado de seus pais e avós”, mas que nem por isso deixariam de ser “dos poucos alunos a não receber convites para festas de aniversário” na escola particular.
As queimaduras, diz a autora à reportagem, são “marcas que ficam como lembrança do que passou e talvez de quem você foi e não quer mais ser”.
E aqui ela acha que cabe lembrar um trechinho de “AmarElo”, música do rapper Emicida. “‘Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Esse verso fala muito pra gente. Escrevendo, eu podia sentir cheiro. A maioria das mulheres negras passaram por aquilo.”
A autora se refere ao ritual de alisar as madeixas que suas personagens femininas cumprem. Meridiana, a que serve de título para a obra, desabafa: se “para muita gente a recordação olfativa dos domingos é o cheiro de macarronada, feijoada, cozido, churrasco”, para ela o dia fedia a cabelo queimado.
Ela se lembra da mãe “puxando mecha por mecha” com “o pente aquecido na boca do fogão”, confiante nas próprias palavras: “O cabelo é a moldura da mulher. Tudo em você muda se o cabelo está arrumado”. Liso.
Cruz se familiarizou desde cedo com esse expediente, que compara a “métodos de tortura”. Aos 16 anos, sofreu uma tragédia capilar, culpa de um produto aplicado no couro cabeludo. “Meu cabelo caiu absolutamente todo, as lágrimas caindo junto. Eu disse à minha mãe: Você nunca mais vai passar nada no meu cabelo”. Foi à Bahia e voltou toda trançada.
Meridiana é a caçula de uma família que trocou a favela por um condomínio de nome pomposo, Bougainville, com varanda, playground e carro na garagem. Ela é boa de perguntas incômodas, como questionar o pai se “estudar, fazer balé e ter um bom emprego” resolveria o problema de ter vizinhos que os olham de cima para baixo.
O nome dessa personagem não é gratuito. Meridiana é a linha imaginária que divide o planeta em hemisférios. Não está nem lá nem cá. Simboliza também o ponto mais alto do sol no céu, ao meio-dia, instante de maior clareza.
A autora expande neste livro pontos de tensão presentes em “Solitária”, romance no qual falou sobre relações de poder entre patrões e empregada doméstica. Agora, há a família negra que sobe de classe social e se equilibra entre dois mundos: passa de quem serve a quem é servido.
Tenta não cair em padrões escravagistas da elite, ao mesmo tempo em que uma funcionária pede demissão por se recusar a trabalhar “pra gente preta igual a ela”.
De novo esse lugar meridiano. O país soma duas décadas de cotas raciais nas universidades e “já tem uma avalanche de pessoas na classe média que fizeram essa mobilidade”, repara Cruz. Novas narrativas, e os inevitáveis choques tectônicos entre classes, surgem a partir daí.
A autora vê urgência em colocar certas histórias em letras. “Tem coisas para serem ditas, personagens para serem descobertos.” E rejeita a ideia de que escrever sobre racismo e desigualdade seja modismo.
“Quando publiquei ‘Solitária’, algumas pessoas falaram assim, ah, o tema é tão batido, já teve obra tal, teve o filme da Anna Muylaert [Que Horas Ela Volta?’]. Tá, mas eu escrevo o que quero, não porque agora estamos todos escrevendo sobre tal coisa.”
Ela escreve, mas já ciente de que em algum momento alguém vai tentar lhe tascar o rótulo de “literatura identitária”. Sai para lá. “Todo mundo é atravessado por esse inferno.”
Prefere pensar a escrita como terapêutica. “Não gosto da palavra cura, algo muito definitivo. É uma espécie de antídoto. Escrever libera de tantas coisas e faz com que você se previna. A literatura não tem obrigação de nada, mas também pode provocar.”
Cruz conta que escutou um podcast de sua editora, a Companhia das Letras, com dicas de autores para conhecer a diáspora judaica. “Fui olhar os livros, todas as pessoas falando de suas famílias, lembranças, ancestralidade. Tão bacana.”
Aprendeu muito ali. E se perguntou: “Por que o inverso não pode acontecer?”. Por que falar sobre os seus é tachado de identitarismo? Diz gostar de ver “nossas vivências celebradas na literatura”.
Não é tão fã de debates como o evocado na Folha pela professora e tradutora Aurora Bernardini, para quem a literatura contemporânea teria ficado mais pobre ao privilegiar o conteúdo e deixar de lado a forma. Seu primeiro exemplo foi “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior.
Com a ressalva de que não acha que dê para “desqualificar quem está há muitos anos lendo e analisando”, Cruz diz sentir “certa má vontade” e não apenas de Bernardini para entender a literatura como algo em constante mutação, e não um totem congelado no tempo e espaço.
Mas também não quer se prolongar muito aqui. “Acho perda de tempo, uma discussão chatíssima”, afirma. Sobretudo quando temos um Brasil que perdeu quase 7 milhões de leitores em cinco anos. “Se você tem uma pessoa que está trazendo gente para a literatura, é pouco inteligente essa briga. Ficar desqualificando uns aos outros, acho que não é por aí.”
Outras brigas ela acha que vale comprar. Cruz conta que a filha sofreu um “caso clássico de racismo” na escola e foi acolhida por um coletivo antirracista lá dentro. “Isso significa que algo caminha. As pessoas já não estão mais tão perdidas nessa geografia, têm com quem se abraçar.”
Em “Meridiana”, essa libertação também passa pelos vínculos entre mulheres. Cruz constrói uma amizade de vida inteira entre duas personagens.
“A sociedade nos induz a sermos rivais, as primeiras algozes umas das outras. Precisamos desarmar essa bomba-relógio, que só nos joga na depressão. Já me ressenti ao olhar pro lado e ver que só tinha amigos homens. Fui resgatar amigas. A irmandade está ali para o momento que você mais precisa.”
MERIDIANA
- Preço R$ 69,90 (184 págs.); R$ 34,90 (ebook)
- Autoria Eliana Alves Cruz
- Editora Companhia das Letras