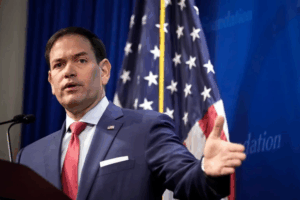Em salas de aula da rede pública e privada do Distrito Federal e do Entorno, professores negros reforçam com o Dia da Consciência Negra, um momento ideal para discutir o racismo com um olhar além, descantando assuntos como racismo, identidade e pertencimento são importantes o ano todo. Entre atividades pedagógicas, relatos pessoais e enfrentamentos silenciosos, eles demonstram que a luta contra o preconceito não cabe em um único mês. É uma construção cotidiana, feita na experiência, no corpo e na palavra, que rompe silêncios históricos e desafia estruturas ainda profundamente marcadas pelo racismo.
Entre avanços e retrocessos: o desafio de implementar a Lei 10.639
Há 15 anos na rede pública do DF, o professor de História e pedagogo Helder da Silva, 41 anos, morador do Riacho Fundo I e docente em uma escola na região administrativa. Ele viveu de perto avanços e recuos da implementação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país. Ele reconhece que há mais abertura hoje, mas afirma que a efetivação da lei ainda está distante do ideal. “As escolas têm reconhecido mais a importância de valorizar a cultura afro-brasileira e indígena, mas o tratamento ainda é insuficiente e, muitas vezes, secundarizado”, pontua. Segundo ele, essa superficialidade reforça silenciamentos históricos e impede que estudantes compreendam as próprias raízes, e o próprio país.
Helder observa que muitos projetos surgem especificamente em novembro, quase sempre com abordagens pontuais, folclorizadas, centradas em manifestações isoladas. “Há uma tendência de tratar a cultura negra como culinária, artesanato, dança, como se fossem eventos avulsos”, afirma. Para ele, isso descola os estudantes da realidade brasileira e reforça referências colonizadas, que privilegiam modelos externos. Como contraponto, cita dois trabalhos recentes que coordenou: o livro Saltei em Cuba e Vim Parar no Brasil, produzido em 2024 com crianças negras e autistas; e um filme realizado em 2025 com estudantes neurodivergentes, inspirado na filosofia africana Ubuntu. “São experiências que mostram que é possível trabalhar consciência negra de forma profunda, significativa e ligada às vivências reais”, diz. Ele chama o livro de “meu quilombinho”, porque a produção criou um espaço de afeto e pertencimento no qual os alunos puderam se ver representados e valorizados.
Se por um lado o professor coleciona experiências exitosas, por outro, afirma que sempre precisou construir seu próprio caminho. “Eu busquei os materiais, as leituras, os projetos. A temática costuma ganhar visibilidade apenas no mês da Consciência Negra e, às vezes, só na semana da culminância”, afirma. A falta de acesso à vasta produção literária e acadêmica brasileira, segundo ele, limita o trabalho dos professores. “Não é falta de conteúdo; é falta de acesso. Há formações, mas não têm alcance.” Essa lacuna se agrava quando o próprio professor negro é alvo de micro-silenciamentos cotidianos, muitas vezes naturalizados.
No início da carreira, Helder acreditava no mito da democracia racial. “Às vezes era nitidamente racismo, e eu dizia: ‘Ah, a pessoa só não está num dia bom’.” Com o tempo, os padrões ficaram evidentes: interrupções constantes, exclusão de reuniões, desconfianças, falta de convites e a simbólica presença permitida “até certo ponto”. “Tudo isso é racismo estrutural; está ali para quem quiser ver”, afirma. Ele também sente que projetos autorais produzidos por docentes negros têm validade curta: “Parece que o projeto preto tem prazo de validade. Depois, volta-se a celebrar produções brancas por anos.”
O professor lembra um episódio recente que o emocionou profundamente. Ao reencontrar, na academia onde treina, uma ex-aluna de 2014, ouviu agradecimentos inesperados por projetos desenvolvidos à época, especialmente os ligados à consciência negra. A estudante, hoje adulta, estava com o cabelo afro assumido. “Eu disse: ‘Seu cabelo é sua coroa. Somos descendentes de reis e rainhas’. Ela chorou. Ver essa transformação é muito forte”, relata. Para ele, representatividade docente impacta diretamente a autoestima dos alunos negros. “Em várias escolas, eu era o único professor preto. Os alunos reconhecem isso. Para eles, faz diferença ver alguém como eles naquele espaço.”
Apesar de avanços pontuais, Helder afirma que ainda há resistências claras. Religiões de matriz africana são quase sempre invisibilizadas nas matérias; figuras brasileiras contemporâneas seguem apagadas em favor de personalidades estrangeiras; e discursos como “antes da consciência negra, precisamos de consciência humana” ainda são usados por gestores, inclusive no próprio dia 20 de novembro. Ele cita que 2015 foi um bom ano, com projetos profundos e estruturados, mas percebe declínio a partir de 2018. Em retorno recente a uma escola onde já havia trabalhado, pode destacar as figuras da luta antirracista como Malcolm X, Martin Luther King e Angela Davis, mas sem menções a intelectuais negros brasileiros vivos. “Eu acho importante lembrar dos nossos ancestrais, mas também precisamos celebrar quem está vivo, quem está produzindo hoje.”
Para ele, a solução passa por planejamento contínuo e interdisciplinar, durante todo o ano letivo. “Por que não falar de dinheiro citando Nath Finanças na aula de Matemática? Por que não discutir cientistas negros contemporâneos nas aulas de Ciências? Por que não ter autores negros na biblioteca da escola de forma permanente?”, questiona. Ele compara a situação à da educação inclusiva: “A escola pode ter um aluno cadeirante, mas a rampa continua inadequada por anos. Só se fala nela no Dia da Inclusão. Com a Consciência Negra é igual. O que deveria existir é um planejamento amarrado do começo ao fim do ano, envolvendo toda a engrenagem escolar.”
Luta feminina
Quem também costura resistência diária dentro da escola é a professora de Língua Portuguesa Vanusa Alves de Carvalho, 43 anos, moradora de Formosa (GO) e docente no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Domingos de Oliveira. Com 20 anos de sala de aula, ela carrega, na própria existência, confrontos e superações que a transformaram em referência para muitos estudantes. “Muitas vezes eu ouço: ‘Professora, você é uma referência para mim’”, conta. Vanusa não corresponde aos padrões de beleza hegemônicos, vem de família pobre e foi a primeira do lado paterno a concluir o ensino superior. “Quando meus alunos descobrem tudo isso, eles se identificam. Muitos me olham e falam: ‘Você conseguiu, então eu posso conseguir’. As meninas que, assim como eu, já foram alvo de zombaria e crítica, me enxergam como reflexo positivo. Isso é extraordinário.”
Em sua escola, a Lei 10.639 está prevista no Projeto Político-Pedagógico, e o tema é trabalhado ao longo do ano, com maior mobilização em novembro. “Há projetos, apresentações, eventos, atividades e discussões em sala”, afirma. Mas ela não se restringe ao eixo das Humanidades: leva o tema para a própria disciplina, propondo leituras, crônicas, debates e produções textuais. Meninas negras buscam nela abrigo para dores e dilemas relacionados ao corpo, cabelo, autoestima e pertencimento. “Dentro das minhas possibilidades, procuro acolher”, resume.
Vanusa destaca que a gestão escolar dá respaldo às iniciativas antirracistas, o que diferencia sua experiência da de muitos docentes. “Os alunos veteranos sabem que vamos desenvolver projetos e ficam ansiosos. Eles se preparam, pesquisam, sugerem apresentações”, conta. Mas mesmo com apoio, o racismo e a negação dele segue presente em sala. Estudantes reproduzem frases como “é mimimi”, “é vitimismo”, “cotas são injustas”, “reparação é falácia”. “Quando acontece comigo, eu paro a aula se for preciso. Ouço, faço uma escuta atenta e tento mostrar outros lados da questão, não por achismo, mas com base em história, literatura, ciência. Algumas falas estão erradas e carregadas de racismo, sim”, enfatiza.
A cultura institucionalizada do 20 de novembro mudou a escola: hoje, os alunos esperam, cobram e se organizam para participar. “Eles tomam a frente mais do que a gente. Se um dia disséssemos que não vai ter nada, tenho certeza de que protestariam.” Mas, entre colegas, Vanusa reconhece que o letramento racial não é homogêneo. “Não estou dizendo que todo mundo tem letramento racial. Às vezes vemos falas cujo germe é o racismo, um preconceito velado. Quem tem letramento sabe identificar”, afirma. Por isso, não se cala. Em reuniões, já foi vista como “a que quer fazer discurso com tudo”. Mas não recua: “Eu não consigo ficar calada. Acho que faz parte da resistência ter voz ativa.”
Além de professora, Vanusa também escreve. Em evento recente, leu um poema de autoria própria no qual mencionava homens e mulheres negros que ajudaram a construir o Brasil, mas foram apagados dos livros. “Uma das minhas missões é não deixar que essas pessoas continuem sendo apagadas”, diz. Ela cumpre o currículo oficial — muitas vezes eurocentrado —, mas costura brechas: “Se não está escrito no livro de História, vão conhecer pela minha boca.”
Olhar antropológico
A antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira, 45 anos, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e do programa de pós-graduação em Sociologia da UnB, reforça que o 20 de novembro é um marco simbólico importante, mas insuficiente se encarado como único momento do ano dedicado à pauta racial. Ela lembra que datas comemorativas surgem em sociedades altamente produtivistas para garantir espaço mínimo de memória em meio ao cotidiano acelerado, mas reforça que isso não substitui a responsabilidade cotidiana da escola. “Não podemos achar que realizar atividades temáticas em novembro dá conta de enfrentar um problema estrutural como o racismo”, afirma. “As práticas antirracistas precisam estar incorporadas ao dia a dia das disciplinas, dos projetos e das relações escolares.”
Antes de atuar na universidade, Jacqueline deu aula por dez anos na educação infantil e no ensino básico, experiência que marcou sua percepção sobre desigualdade racial. Na formação docente, trabalhou quase duas décadas com cursos, grupos de estudo e projetos de extensão voltados à rede pública, em iniciativas que discutiam práticas antirracistas, diversidade e direitos humanos diretamente com professores. Ela também integrou o projeto “Respeitar é Preciso”, do Instituto Vladimir Herzog, que até hoje oferece formação continuada a docentes da rede municipal de São Paulo. Ao se mudar para Brasília, em 2022, continuou ministrando parte dessas formações e passou a atuar em projetos voltados à sociologia, educação e direitos humanos na UnB.
Jacqueline lembra que as diretrizes para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena existem há mais de vinte anos, mas ainda encontram resistência na implementação. Entre os desafios, cita a falta de formação adequada, a ausência de materiais, os limites institucionais e, muitas vezes, a insegurança dos próprios professores. Ela defende que universidades têm papel central nesse processo, já que formam os profissionais que atuarão na educação básica. “As instituições de ensino superior precisam consolidar currículos realmente comprometidos com o enfrentamento ao racismo. Se a formação for sólida, os professores chegarão às escolas com mais instrumentos para trabalhar essas questões no cotidiano”, afirma. A presença de mais docentes negros nas graduações e pós-graduações, acrescenta, fortalece o debate e amplia referências para futuros professores.
Para a antropóloga, a escola pública brasileira — diversa, plural e marcada por desigualdades históricas — precisa assumir plenamente seu compromisso de ser espaço de disputa contra as desigualdades. Isso inclui revisar práticas pedagógicas, questionar currículos, ampliar referências e dar centralidade às histórias da população negra. “A educação só cumpre seu papel quando enfrenta as estruturas de desigualdade que moldaram a nossa sociedade. E isso exige ação contínua, não apenas celebração em datas específicas”, defende.
Helder, Vanusa e Jacqueline, cada um em seu contexto, ilustram a mesma premissa: a resistência negra dentro da escola é permanente. Ela não se resume ao 20 de novembro, nem a murais coloridos, apresentações culturais ou projetos pontuais. A resistência acontece diariamente: na sala de aula, nos corredores, nas reuniões, no acolhimento aos estudantes, na coragem de corrigir falas racistas, na produção de livros, na escrita de poemas, na condução de debates, na crítica às estruturas, nos gestos que reafirmam a humanidade e a história de um povo. É feita, sobretudo, na insistência em existir e ensinar em espaços que, por séculos, negaram sua presença.