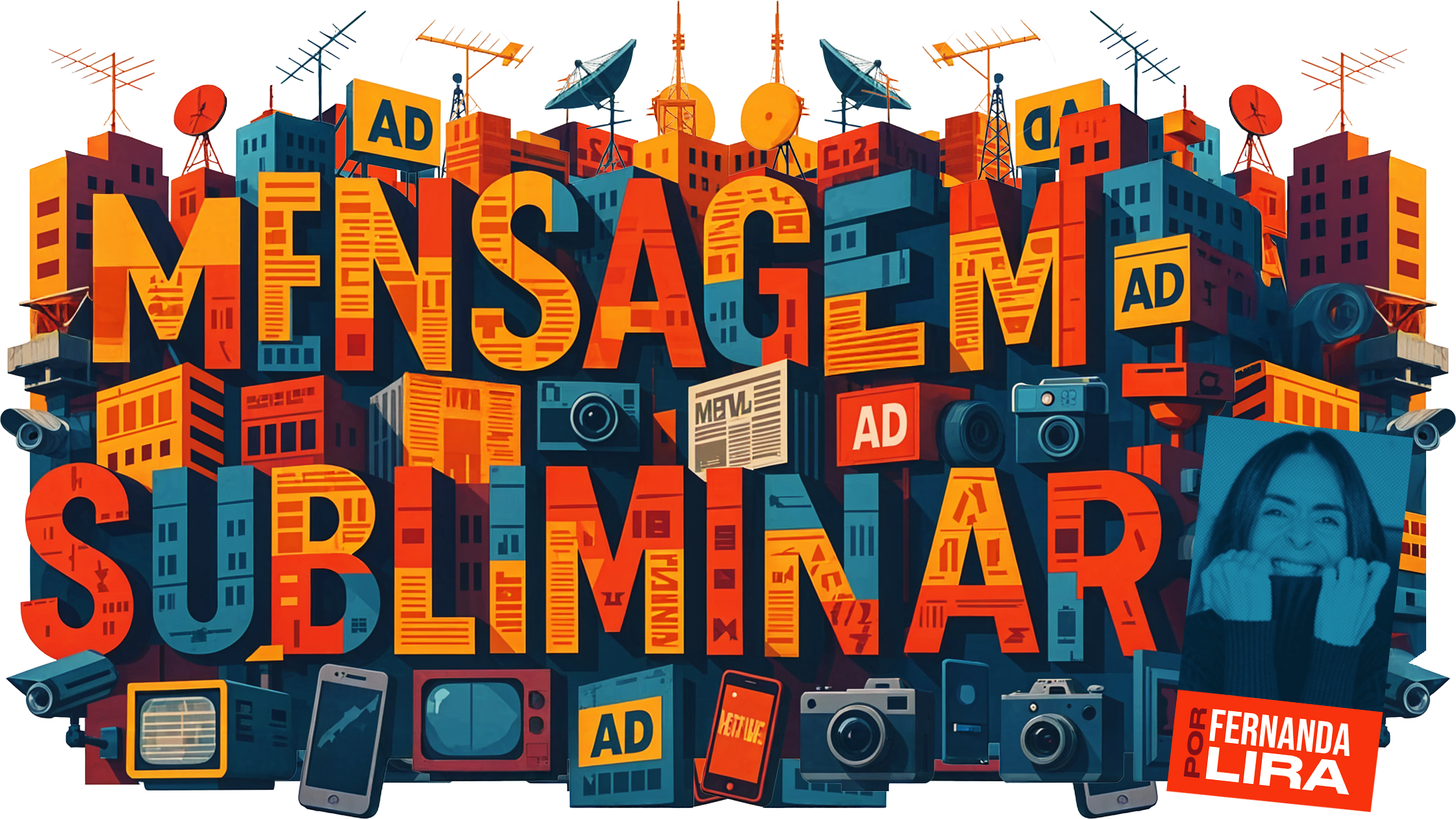Outro dia, em uma reunião, ouvi de um fundador:
“Já fiz de tudo: post, banner, até treinei o time. Nada funciona.”
Naquele instante, ficou claro como ainda se confunde esforço com estratégia. A comunicação se tornou imediatista, fragmentada, como se bastasse cumprir um checklist para colher resultados. Só que campanha não é peça: é organismo vivo. E organismo precisa de repertório, contexto e presença.
A internet reforçou a ilusão do atalho. Um post bem feito, tráfego impulsionado, um banner piscando na tela – e pronto, estaria feita a campanha. Mas é justamente aí que mora a armadilha: confundimos peça com narrativa, alcance com presença, buzz com legado. É verdade que a atenção encurtou e o tempo de tela se diluiu em segundos. Mas comunicar um produto, uma ideia ou um posicionamento exige mais do que velocidade: exige visão de negócio em 360°, repertório cultural e experiência para traduzir essência em linguagem viva.
O que se vê, no entanto, é o contrário. Fundadores reclamam que “nada dá certo”, mas continuam investindo em ações isoladas, conduzidas por profissionais inexperientes, sem contexto ou continuidade. Querem resultados imediatos, esquecendo-se de que uma campanha só começa quando o público reconhece um pedaço de si dentro da marca – e isso não se constrói em um post patrocinado. Pior ainda: muitos acreditam que, porque conhecem profundamente seu negócio, o mundo ao redor tem a obrigação de entendê-lo e valorizá-lo. É aí que nasce a miopia. O fundador acha que o negócio se explica sozinho, quando na verdade é a narrativa que traduz valor. Sem ela, o que parece óbvio internamente vira, para o público, apenas mais um ruído irrelevante no feed.
Exemplos de tropeços não faltam. A Pepsi acreditou que poderia resumir um protesto social em um comercial com Kendall Jenner. Viralizou, mas não pela força da ideia – e sim pelo vazio que reduzia uma causa séria a espetáculo publicitário. Nos anos 1980, a Coca-Cola lançou o New Coke confiando em pesquisas superficiais, mas ignorando os laços emocionais do público com a fórmula original. A rejeição foi imediata, e a empresa precisou recuar às pressas. Mais recentemente, a Jaguar rompeu com seu próprio legado ao adotar o slogan Copy Nothing. A aposta futurista soou como negação daquilo que tornara a marca icônica: tradição e elegância britânica. Houve barulho, tráfego e memes, mas clientes fiéis se afastaram. As vendas despencaram na Europa e o CEO deixou o cargo em meio à pressão. A campanha que deveria simbolizar ruptura virou sinônimo de desconexão.
Do outro lado, vemos o que acontece quando a campanha nasce de uma narrativa consistente. A Dove, com a Real Beauty, não vendeu sabonetes, mas um novo olhar sobre a autoestima feminina. Gerou debate cultural, atravessou gerações e virou estudo em universidades. A Heineken ousou defender o consumo responsável em um mercado marcado pelo excesso, transformando publicidade em convite a valores compartilhados. O Nubank não lançou apenas um cartão, mas um manifesto contra a burocracia bancária. Sua comunicação se infiltrou em cada detalhe: atendimento, linguagem, design. Assim conquistou defensores, não apenas clientes. A Apple, com o Shot on iPhone, foi além: não prometeu megapixels, mas devolveu às pessoas o poder de contar suas próprias histórias. Fez do consumidor um criador e transformou a campanha em comunidade viva, que segue se renovando há anos.
A diferença entre os fracassos e os acertos não está no orçamento, mas na raiz. Quem encara campanha como peça isolada colhe efemeridade. Quem a constrói como experiência integrada conquista presença.
O problema nunca foi a internet. O problema é a pressa – e, mais ainda, a soberba de acreditar que o mundo tem obrigação de enxergar valor no que fazemos. Valor não é declarado: é traduzido, provado e vivido. A internet encurtou os caminhos, mas não o sentido. E sem sentido, nenhuma campanha sobrevive ao próximo clique.