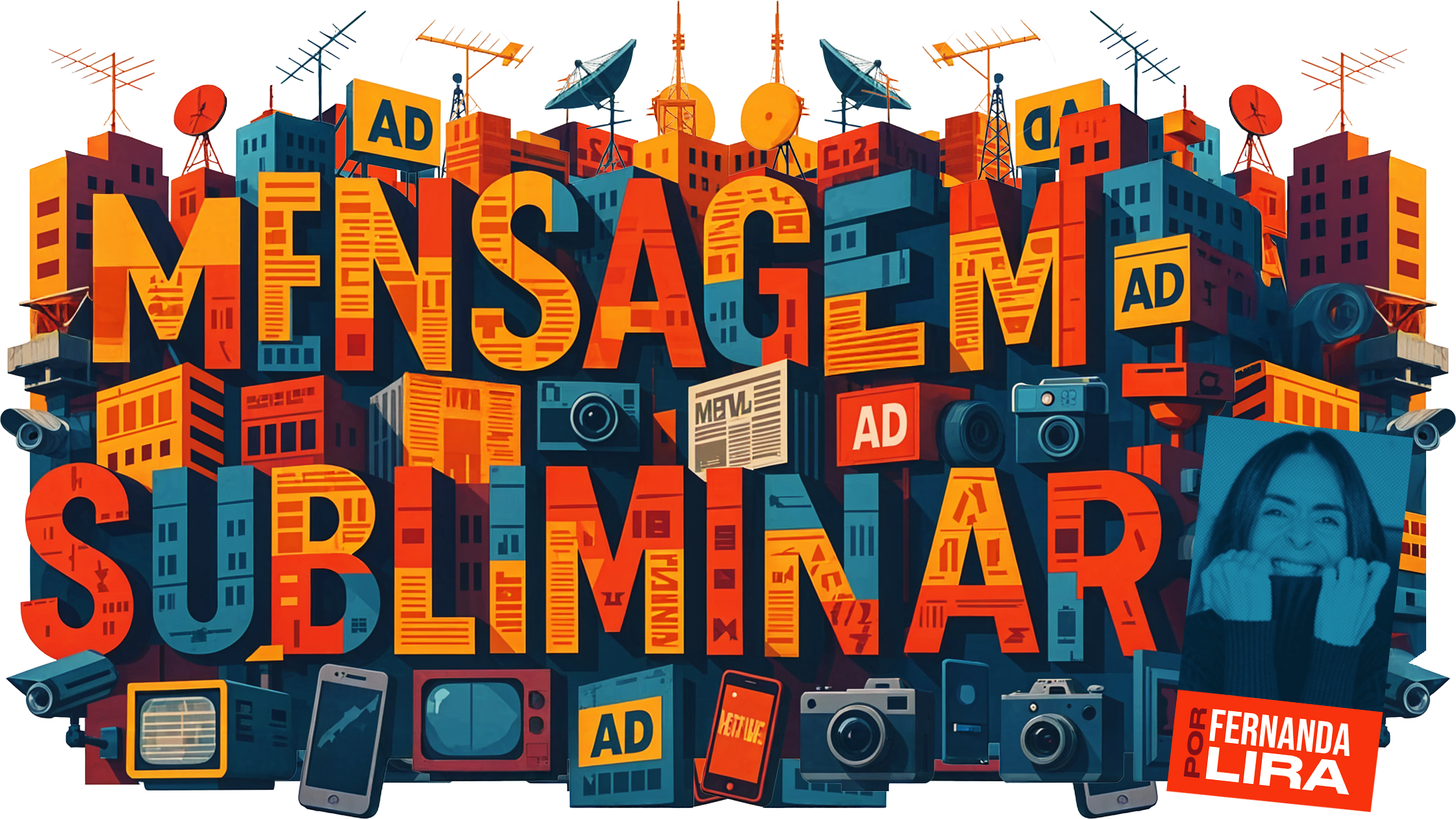Existe um erro conceitual que o marketing contemporâneo insiste em repetir: a crença de que marcas precisam “ter voz” como pessoas têm. Opinar, reagir, se posicionar, responder ao tempo real. A ideia soa moderna, quase inevitável em um ambiente de redes sociais, mas carrega uma distorção perigosa. Marcas não existem para expressar opinião. Elas existem para sustentar valores compartilháveis. Quando essa fronteira se rompe, o que parece coragem frequentemente é apenas imprudência estratégica.
Durante muito tempo, esse erro não cobrava preço algum. O Brasil era menos polarizado, o consumo mais passivo e a publicidade ainda operava sob a confortável ilusão de que mensagem e recepção eram territórios controláveis. Criava-se uma campanha, lançava-se no ar, colhiam-se os resultados. O ruído, quando existia, morria rápido. Esse tempo acabou, e não acabou ontem. Ele vem se esgotando silenciosamente há pelo menos uma década, à medida que o consumo deixou de ser apenas transacional e passou a ser interpretativo. Hoje, o consumidor não apenas vê: ele cruza informações, projeta sentidos e interpreta contextos. Toda marca passou a ser lida como um texto aberto.
É nesse cenário que a recente campanha da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, ganha relevância. Não por ser um erro isolado, mas por funcionar como sintoma de uma transição mal assimilada pelo marketing contemporâneo. No afã de criar uma peça “diferente”, com alto potencial de engajamento e viralização, o time parece ter ignorado a função mais básica, e mais estratégica, de uma marca líder: proteger o próprio território simbólico.
Semanas antes da veiculação da campanha, a atriz havia se posicionado publicamente em manifestações políticas claras, amplamente registradas e facilmente rastreáveis. Nada de errado nisso. Pessoas têm ideologia. Pessoas têm opinião. Pessoas podem, e devem, se posicionar. Marcas, não. O problema não está na escolha da atriz como indivíduo, nem em sua trajetória artística, muito menos em suas convicções pessoais. O ponto sensível está no efeito de contaminação simbólica que essa associação produz quando aplicada a uma marca de alcance quase universal.
A Havaianas não é uma marca identitária. Não fala com um recorte social específico nem com uma tribo cultural delimitada. Ela fala com o Brasil inteiro. Está nos pés do trabalhador informal, do executivo, do estudante, do idoso, do turista estrangeiro e da dona de casa. Está na praia, no hospital, no quintal e no aeroporto. Trata-se de uma marca com penetração próxima da onipresença: algo raro, valioso e extremamente difícil de construir. E, exatamente por isso, perigoso de tensionar.
O Brasil inteiro, vale lembrar, não cabe dentro de um espectro ideológico. Nem de direita, nem de esquerda. Quando uma marca dessa magnitude parece inclinar-se simbolicamente para um dos lados, ainda que por associação indireta, ela não “ganha debate”. Ela perde superfície. Reduz o espaço simbólico onde todos cabiam sem atrito.
Pesquisas globais ajudam a compreender esse movimento com mais clareza. Estudos da Kantar, especialmente no BrandZ, mostram que marcas líderes em penetração, presentes em mais de 80% dos lares, crescem menos por diferenciação discursiva e mais por confiança contínua e neutralidade relacional. Quanto maior a escala, menor o espaço para ambiguidades simbólicas. O consumidor não quer ser surpreendido ideologicamente por uma marca que ele usa de forma quase automática no cotidiano.
O mesmo padrão aparece no Edelman Trust Barometer, que há anos monitora a relação entre marcas, confiança e polarização. Os dados mostram que consumidores aceitam, e até esperam, posicionamentos claros das marcas em temas sociais amplos, como inclusão, sustentabilidade, ética corporativa e impacto ambiental. Mas rejeitam quando percebem alinhamento partidário explícito ou implícito. Não se trata de censura ou conservadorismo do consumo. Trata-se de coerência simbólica. Quando a marca cruza essa linha, o que se instala não é debate, é ruído.
E ruído, em branding, custa caro.
O erro estratégico da campanha, portanto, não foi político. Foi estrutural. Ao transformar uma peça publicitária em gatilho ideológico, a Havaianas abriu uma fresta perigosa em seu próprio modelo de liderança. Ofereceu, sem necessidade alguma, uma oportunidade de ouro para que concorrentes se posicionem como “alternativa neutra”, “porto seguro” ou simplesmente como o lugar onde o consumidor não precisa pensar, apenas usar. Em mercados maduros, share não se perde apenas por preço ou produto. Perde-se por desalinhamento emocional: aquele momento sutil em que o consumidor deixa de se reconhecer na marca e começa, ainda que inconscientemente, a considerar outras opções.
Esse é um ponto frequentemente subestimado por times de marketing obcecados por métricas de curto prazo. Viralização mede barulho. Marca mede permanência. Um conteúdo pode performar bem nos primeiros dias, gerar debate, cliques, comentários e manchetes. Mas o dano, quando existe, não se manifesta em 24 horas. Ele se infiltra no tempo. É silencioso. E, muitas vezes, só aparece quando a concorrência sabe explorá-lo melhor.
Há aqui um deslocamento que o marketing contemporâneo ainda reluta em aceitar: marca não é mídia pessoal. Não é extensão de opinião, nem plataforma de manifesto individual. Marca é infraestrutura simbólica. Existe para sustentar relações estáveis em ambientes instáveis. Quando o marketing confunde engajamento com alinhamento, perde de vista essa função elementar.
O paradoxo é que marcas do porte da Havaianas não quebram por crises pontuais. Elas atravessam turbulências. Já atravessaram outras, inclusive mais graves. O que muda o jogo é o precedente que se cria. Cada vez que uma marca desse tamanho tensiona sua neutralidade relacional, ela reduz um pouco o espaço onde todos cabiam. Pode não perder relevância imediatamente, mas perde algo mais sutil e decisivo: automaticidade. Aquela escolha sem atrito, quase inconsciente, que sustenta a liderança ao longo do tempo.
Talvez a reflexão mais incômoda não seja se a campanha foi boa ou ruim do ponto de vista criativo. Nem se foi ousada ou conservadora. A pergunta real é outra: em que momento o marketing passou a confundir visibilidade com responsabilidade? Em que momento esquecemos que marcas não entram nas casas das pessoas para provocar, mas sim para permanecer?
Num mundo saturado de opiniões, talvez o maior ato estratégico de uma marca seja lembrar quem ela é e, principalmente, quem ela não precisa ser. Porque, na era da polarização, crescer não é falar mais alto. É saber quando não falar.