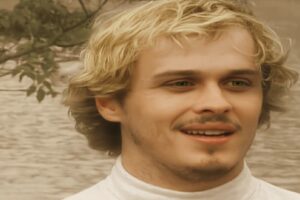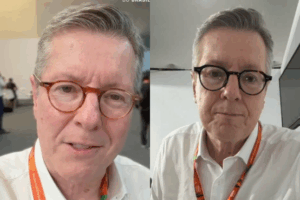“Amei a liberdade, e a independência
Da doce cara pátria, a quem o Luso
Oprimia sem dó, com riso e mofa —
Eis o meu crime todo”
José Bonifácio – no poema Ode aos Baianos
Olavo David Neto e Vítor Mendonça
redacao@grupojbr.com
A té a última legislatura do Congresso brasileiro, tão certo quanto o busto de Rui Barbosa no plenário do Senado era a presença de pelo menos um representante da família Andrada no Parlamento. O Brasil nem era ainda um país independente e o primeiro deles já era deputado. Um ano antes de o país proclamar sua independência, em 1822, Portugal reuniu-se numa Assembleia Constituinte, que ficou historicamente conhecida como Cortes de Lisboa. As Cortes de Lisboa foram consequência da Revolução do Porto, movimento que obrigou o retorno a Portugal de Dom João VI e sua corte.
De cunho liberal, a Revolução do Porto estabelecia o fim do regime absolutista, e determinava que fosse criada a primeira Constituição portuguesa. Era para isso que se reuniriam os parlamentares em Lisboa. Uma delegação brasileira composta por 97 deputados e suplentes participaria das reuniões. Entre eles, estava Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva, sem dúvida o mais famoso representante da família na história brasileira.

José Bonifácio não participou da delegação. Mas foi ele quem orientou todo o trabalho da bancada paulista, da qual pertencia seu irmão. Pouco tempo depois, seria José Bonifácio um dos principais artífices do movimento, que no dia 7 de setembro de 1822, tornaria o Brasil um país independente, tendo como seu primeiro governante o imperador Dom Pedro I. Mais tarde, quando Dom Pedro I abdica e segue para Lisboa para morrer como Dom Pedro IV, rei de Portugal, é ele quem será o tutor de Dom Pedro II. Presença marcante na construção inicial da nação brasileira, não é supresa, portanto, que José Bonifácio se encontre também nas raízes da criação de Brasília. E justamente a partir do documento que elaborou para que fosse defendido pela bancada paulista nas Cortes de Lisboa.
Petrópole ou Brasília
O Brasil, embora ainda sob domínio da coroa portuguesa, já não sofria a rigidez do controle de Portugal, outrora presente nas capitanias hereditárias e no início do regime colonial. Em 1821, às vésperas da emancipação brasileira da corte, novos ensaios de mudança da capital dariam os primeiros passos para sair do papel — e pelas mãos de integrantes do governo vigente na colônia.
Nas perspectivas de José Bonifácio, vice-presidente de São Paulo, Brasília também era possível fora do imaginário. Por meio do documento intitulado “Lembranças e apontamentos do governo ‘provizorio’ da Província de S. Paulo”, o estadista aproveitou a influência política para plantar as ideias de mudança da capital dentro dos meandros da legislatura brasileira.
Nesse documento, Bonifácio sugere a transferência da capital do país para o interior. E, incrivelmente, já propõe que ela se instalasse próxima de onde de fato ficou. Sua sugestão era que o Paralelo 15 — entre os graus 15º e 20º, que dividem o planeta horizontalmente, cortando, no Brasil, partes dos atuais estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, além do Distrito Federal — fosse a região delimitada para estabelecer a nova cidade. Bonifácio sugeriu dois nomes para a nova cidade. O primeiro era Petrópole, clara homenagem ao imperador. O segundo nome proposto pelo Patriarca da Independência era Brasília.
Assinado por ele como presidente da Província de São Paulo, por João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg, e pelo brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão III, e aprovado pelo Palácio do Governo de S. Paulo em outubro de 1821, o documento enviado à corte elenca, na nona posição dos “Negócios do Reino do Brasil”, as justificativas para a proposta. E as razões são as mesmas destacadas nos primeiros capítulos desta série especial publicada pelo Jornal de Brasília.
Em primeiro lugar, a questão da segurança: “Deste modo [mudando a capital para o interior do Brasil], fica a Corte ou assento da Regência livre de qualquer assalto e surpresa externa”. Já com um histórico vulnerável no litoral, a questão foi a principal dentre as sugestões.
O segundo argumento trata da superlotação da então capital brasileira, estimada em 150 mil habitantes, em 1821: “[…] e se chama para as Províncias Centrais o excesso de povoação vadia das cidades – marítimas e mercantis”. Vale lembrar que a população excedente da cidade carioca, somada à falta de saneamento básico e às abarrotadas vilas no Rio de Janeiro, aumentava nas mentes governantes as preocupações sobre a higiene e prováveis doenças.
José Bonifácio também era um vanguardista quanto aos pensamentos sobre quem deveria ocupar as novas terras. Contrariando a economia local, que já perdurava há mais de três séculos nas terras brasileiras, ele pressupõe uma inovação em referência à forma de movimentar o mercado. Quem explica melhor é o professor Kelerson Semerene, coordenador do departamento de História da Universidade de Brasília (UnB).
“Uma questão fundamental é que ele era contra a escravidão. Seja por razões humanitárias, por razões filosóficas — ele era um iluminista, um ilustrado, para quem a liberdade é um valor natural de todo ser humano — e do ponto de vista econômico ele também considerava a escravidão pouco rentável, que mais empacava o desenvolvimento do Brasil”, coloca o acadêmico.

Como não bastasse a preocupação humanitária, Bonifácio entendia que a escravatura era o início de uma fila de dominós, que desencadeavam, de igual forma, prejuízos no contexto ambiental. “Se você tinha escravos e podia ocupar terras, etc, não haveria investimento em melhoria do solo, por exemplo, bastava derrubar árvores e ocupar novas terras para avançar a agricultura. Ele dizia que, ‘se nós continuarmos nesse ritmo, em 200 anos nossas matas estarão como os desertos da Líbia’”, explica Kelerson. Tais pensamentos libertários, no entanto, seriam aplicados mais de 50 anos depois, não exatamente pelas mesmas preocupações.
O alinhamento de Bonifácio também perpassa o âmbito administrativo e estratégico, a fim de manter o controle do governo de forma sistemática, mantendo as negociações comerciais ativas. Esta é a terceira justificativa: “Desta Corte central, dever-se-ão abrir estradas para as diversas províncias e portos de mar, para que se comuniquem e circulem, com toda a prontidão, as Ordens do Governo, e se favoreça por elas o comércio interno do vasto Império do Brasil”, finalizou.
Fico, mas quem fica comigo?
“A proposta de José Bonifácio de transferência da capital não é uma proposta isolada. Ela está numa ideia de nação, um projeto que ele concebia para o Brasil. Num primeiro momento, para um certo desenvolvimento do que era o território brasileiro dentro do império português, e depois, num segundo momento, para o Brasil enquanto Estado”, expõe o professor Kelerson Semerene.
Paradoxalmente, menos de um ano depois da proposição, o próprio Bonifácio seria um dos pivôs da separação do Brasil com a coroa portuguesa. O vice-presidente da província de São Paulo começa a estruturar a independência do comando de Portugal. A família real exigia, a essa altura, entre 1821 e 1822, a volta do príncipe Dom Pedro I para Lisboa. Contrariado pelas imposições da coroa portuguesa, que cada vez mais limava os limites de seu poderio na Regência, em um ato de rebeldia o herdeiro do trono português declara, em 9 de janeiro de 1822, a emblemática frase: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto. Digam ao povo que fico.”

As palavras empregadas simbolizam cada vez mais a aproximação com a ruptura da corte portuguesa. O conceito de “Nação” colocado já anunciaria as pretensões que se concretizariam quase oito meses depois. De São Paulo, por meio de uma carta enviada ao filho de D. João VI, no Rio de Janeiro, em 1º de setembro daquele ano, Bonifácio acende as motivações necessárias para a emancipação.
“Senhor, o dado está lançado: de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha V.A.R. (Vossa Alteza Real) quanto antes e decida-se, porque irresoluções, e medidas d’água morna, à vista deste contrário que não nos poupa, para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. Muitas cousas terei a dizer a V.A.R., mas nem do tempo nem da cabeça posso dizer”, relatou o vice-governante da província paulista. As palavras o fizeram reconhecido como o Patriarca da Independência.
De mentor da independência a exiladoDepois de 7 de setembro, D. Pedro I se viu diante de um enorme desafio. A área total do Brasil Imperial tinha o desenho correspondente a cerca de 90% das delimitações atuais e, portanto, a logística para se gerir as 21 províncias seria difícil sendo o Rio de Janeiro sede da capital do país. Sem falar no clima de desunião existente naqueles tempos, conforme é relatado no capítulo XV de “Recenseamento Geral do Brazil”, da Diretoria Geral de Estatística (DGE) – documento finalizado em setembro de 1920 para estabelecer uma história geral do país, delimitando diferentes aspectos desde o período colonial. Talvez sejam essas desconexões o motivo pelo qual a transferência da capital tenha delongado outros 138 anos para acontecer. “O problema da unidade nacional impõe-se como o primeiro ponto a ser resolvido pelos organizadores das novas instituições: a colônia nos havia legado, com seus métodos de política, um povo esfacelado em quase vinte partes autônomas, com pequeníssimas, senão nulas, relações de interdependência”, relata o texto da DGE. Como governar um país ainda recém-nascido? Era preciso uma figura que estruturasse ligações entre as províncias e, apesar de D. Pedro ter o prestígio de um príncipe, não seriam todas que se dirigiriam ao novo regente, de 23 anos. Pernambuco escolhe manter a própria autonomia, mas outras regiões ainda preferem a fidelidade à Portugal, como Maranhão, Pará e Bahia. Ao sangue real no Brasil, optaram lealdade Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em maio de 1823, uma Assembleia Constituinte foi criada para organizar os princípios e metas do novo país. Todavia, tamanhas divergências nacionais irromperam, inclusive, a menos provável das separações. No mesmo ano, D. Pedro dissolve a Assembleia e manda prender Bonifácio em 12 de outubro, que posteriormente seria exilado. O sonho da capital no interior do Brasil teria de ser passado para outro idealista. Em seu poema, Ode aos Baianos, José Bonifácio fala do seu destino no exílio. “Amei a liberdade e a independência”, escreveu. “Eis o meu crime todo”. Em tempo: o representante da família Andrada na última legislatura foi o deputado Bonifácio Andrada, da bancada do PSDB de Minas Gerais. Aos 87 anos, ele foi o relator do processo que negou a possibilidade de o ex-presidente Michel Temer ser investigado no cargo pelas denúncias de corrupção contra ele. |
AMANHÃ: Varnhagen, os primeiros passos para a criação de Brasília